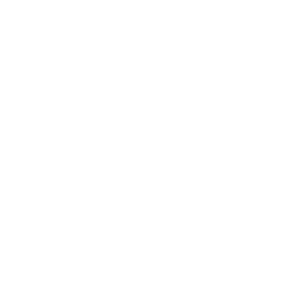O licenciamento ambiental brasileiro sempre operou em um território ambíguo, onde o compromisso legítimo com a proteção ecológica convive com um emaranhado de procedimentos que pouco dialogam entre si. A preocupação com a integridade dos biomas é real e necessária, mas ela se perdeu, muitas vezes, dentro de um arranjo administrativo que produz mais opacidade do que resultados ambientais concretos.
Ao longo das últimas décadas, o país construiu uma estrutura fragmentada. A cada novo empreendimento, somavam-se novas consultas, novas manifestações, novos pareceres. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, que deveria articular tudo isso, nunca se consolidou. O resultado foi um sistema que pune tanto o órgão ambiental, sobrecarregado e sem cooperação interinstitucional, quanto o empreendedor, frequentemente submetido a regras e metodologias cujo objetivo nem sempre era claro. Em vez de alinhar proteção ambiental, segurança jurídica e planejamento de longo prazo, criamos um modelo que parece oscilar entre o excesso e a paralisação.
Na maior parte do tempo, os órgãos ambientais operaram com quadros reduzidos, equipes que encolheram ao longo de décadas, reposição insuficiente de especialistas e uma pressão política permanente que os obrigava a conciliar expectativas inconciliáveis. Enquanto o volume e a complexidade dos empreendimentos cresciam, a capacidade estatal permanecia estagnada, empurrando analistas e gestores para um ciclo contínuo de sobrecarga.
A isso se somou um fenômeno silencioso, mas determinante: o licenciamento ambiental foi convertido, pouco a pouco, em um fórum de resolução de conflitos que pouco tinham a ver com impacto ecológico direto. Disputas fundiárias, reivindicações de populações tradicionais, compensações territoriais, tensões federativas, solicitações por mais empregos locais, pleitos orçamentários de municípios afetados e até atritos diplomáticos envolvendo empresas estrangeiras acabaram despejados sobre o processo.
O resultado é que os órgãos licenciadores passaram a tomar decisões que, embora justificáveis dentro de seus limites técnicos, eram interpretadas como gestos políticos. A ausência de coordenação interinstitucional e a sobrecarga em resolver todos os problemas do mundo apenas no escopo do licenciamento ambiental fez com que qualquer indeferimento, pedido de complementação ou demora processual adquirisse um significado político imediato: para uns, prova de rigor; para outros, prova de sabotagem. Essa ambivalência corroeu a credibilidade de todos os envolvidos e transformou o licenciamento num campo de batalha simbólico.
Ao se misturar impacto ambiental com disputas que pertencem a outras esferas do Estado, o país criou um sistema incapaz de distinguir onde termina a técnica e onde começa a política. O desgaste não foi apenas institucional; foi epistemológico. A sociedade perdeu a referência sobre o que caracteriza um impacto ambiental significativo e sobre quais critérios deveriam orientar compensações e condicionantes. Nesse ambiente, o conflito deixou de ser exceção e passou a ser o modo padrão de funcionamento do sistema.
A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental surge nesse contexto. É fruto de décadas de tentativas frustradas de um debate que, por muito tempo, esteve travado pelo medo de parecer permissivo ao poluidor. No entanto, a prolongada ausência de critérios decisórios estáveis gerou frustração crescente entre órgãos ambientais, empreendedores e legisladores, produzindo um mal-estar que finalmente transbordou na decisão do Congresso de derrubar quase todos os vetos presidenciais. A decisão do Congresso revela uma percepção crescente de que a insegurança regulatória é prejudicial para todos: para o Estado, que perde capacidade de priorizar; para a sociedade, que fica sem obras essenciais; e para o meio ambiente, que depende de decisões claras para ser tutelado, não de labirintos burocráticos.
Os pontos mais controvertidos da lei, especialmente a Licença por Adesão e Compromisso, foram transformados em caricatura no debate público. A derrubada dos vetos presidenciais nessa matéria devolveu ao texto elementos essenciais para distinguir atividades de baixo e médio impacto de empreendimentos realmente complexos. A LAC não é um passe livre. Ela só pode ser aplicada onde há conhecimento consolidado sobre o impacto ambiental, quando os parâmetros de instalação e operação já estão documentados e quando a autoridade ambiental define previamente as condicionantes. É uma hipótese bastante específica. Além disso, a lei exige fiscalização por amostragem anual, metodologia de auditoria e possibilidade de revogação imediata caso haja fraude ou descumprimento. O veto presidencial buscava restringir essa autodeclaração por receio de fragilização do controle ambiental; o Congresso entendeu que a previsibilidade desse rito pode, na verdade, fortalecer o sistema ao concentrar esforços onde o risco é maior. Não se trata de afrouxar o licenciamento, mas de reconhecer que a mesma densidade procedimental não faz sentido para todas as tipologias.
A derrubada dos vetos também devolveu ao texto limites importantes sobre condicionantes ambientais. O Executivo havia vetado dispositivos que impediam exigências sem nexo causal ou que transformassem empreendedores em responsáveis por falhas estruturais de políticas públicas, como saneamento, regularização fundiária ou oferta de serviços de saúde. O Congresso restabeleceu essas travas, afirmando que o licenciamento não pode ser a via indireta para compensar omissões estatais históricas. Esse ponto é central: sem esses filtros, condicionantes deixam de proteger o ambiente para se tornarem cláusulas sociais genéricas e imprevisíveis.
Já no caso da Licença Ambiental Especial, o único conjunto relevante de vetos ainda preservado, a tensão é outra. A LAE pretende criar um rito acelerado para projetos estratégicos, algo que, na prática, sempre existiu no país, mas de forma informal e opaca. O Congresso escolheu não derrubar o veto e transferiu sua definição para uma Medida Provisória, sinalizando ambivalência: reconhece-se a necessidade de um procedimento diferenciado, sobretudo para obras críticas de transição energética, saneamento e infraestrutura logística, mas há receio de que esse rito seja usado como atalho para esvaziar o escrutínio socioambiental. Institucionalizar a LAE é mais transparente do que seguir fingindo que ela não existe.
O Brasil não pode repetir velhos erros. Não pode abandonar o rigor técnico, nem transformar eficiência processual em sinônimo de pressa. A proteção ambiental não é um obstáculo ao desenvolvimento; é a própria condição de sua continuidade. Mas também não pode ignorar que processos disfuncionais produzem o pior dos mundos: obras ruins, projetos abandonados, judicialização permanente e pressão política sobre órgãos ambientais já sobrecarregados.
A lei tem potencial para organizar um sistema que há muito opera no limite. Mas implementação é sempre mais difícil do que formulação. Integrar sistemas eletrônicos, harmonizar bases de dados, criar padrões de cooperação federativa e expandir equipes técnicas exige investimento, prioridade política e perseverança. Se essa infraestrutura institucional não vier, a lei corre o risco de se tornar mais um monumento à frustração regulatória brasileira.
O país tem diante de si uma oportunidade rara. Pode transformar um ambiente regulatório marcado por improvisos em uma política pública mais coerente, com mais racionalidade e mais proteção ambiental, não menos. Mas isso exige abandonar a falsa escolha entre desenvolvimento e conservação. E exige reconhecer que licenciar melhor não é licenciar mais rápido, nem mais devagar. É licenciar com propósito, método e transparência.
O Brasil passou décadas discutindo como deveria ser seu licenciamento ambiental. Agora terá de enfrentar a pergunta mais difícil: como torná-lo, finalmente, capaz de cumprir aquilo que promete?
Fonte: Isabel Veloso e Rosinaldo Lobato Júnior/Jota, com adaptações da MundoCoop